A revolta contra os pobres
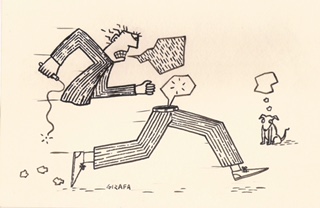
José Carvalho de Noronha (Fiocruz e Cebes), Gustavo Soutos de Noronha (UFF) e Ana Maria Costa (ESCS e Cebes). Ilustrações: Girafa
Publicado na Revista Brasileiros
Estamos diante de um conflito entre a realidade e os pressupostos que orientam as intervenções do grupo que se encontra no poder sobre ela. Em 2016, ocorreram cerca de 60.000 assassinatos no Brasil. Nos últimos 10 anos, mais de meio milhão de vítimas. São, na maior parte, jovens, pobres, pardos ou negros e das periferias urbanas.
O país é a 9ª economia do mundo e a 12º nação mais desigual. Segundo publicou o Instituto de Pesquisas Econômicas (IPEA) a partir dados do imposto de renda, apenas 71.440 declarantes com renda superior a 160 salários mínimos (0,3% das pessoas que prestaram informações à Receita Federal) detinham 23% do patrimônio líquido total declarado e 14% da renda total.
Uma das expressões dessas desigualdades e da brutal estratificação social em nosso país é a saúde. Aquela que o constituinte definiu como direito universal é, hoje, um direito morto. Os empecilhos políticos ao seu financiamento adequado, gerando dificuldades no acesso e na qualidade, favoreceram o descrédito da população e a migração dos mais abastados aos planos de saúde.
Em sua maioria, os planos são contratados por empregadores com vigência apenas para os trabalhadores ativos. A contribuição patronal evidentemente é repassada ao preço final do produto ou serviço e, portanto, paga pelo consumidor final. Tampouco, por ser benefício, não é tributada como rendimento ao trabalhador. A parte paga por este, bem como aos planos contratados diretamente pelos indivíduos, é deduzida da renda bruta para efeitos de tributação. Há, portanto, simultaneamente uma renúncia de arrecadação e um oculto “imposto ao consumo”.
Para que se tenha uma ideia do tamanho dos benefícios, a receita total das operadoras de planos de saúde em 2015 foi de 143 bilhões de reais, 1,4 vezes superior ao orçamento executado pelo Ministério da Saúde naquele ano.
Os valores pagos pelas operadoras de planos de saúde aos prestadores também são fortemente estratificados. Por exemplo, o valor médio pago por episódio de internação pago é cinco vezes superior aos que o SUS paga. Mas os planos para as classes de renda maior chegam a pagar três vezes mais que a média dos planos, e dezoito vezes mais que o SUS. As diferenças de hotelaria não justificam tamanha discrepância!
Já não é de hoje a ladainha que gastamos muito em saúde, por mais que se repita à náusea que nosso PIB per capita não é do tamanho dos países desenvolvidos. Isso além da forte desigualdade de renda, riqueza e acesso a bens e serviços. Esquecem que o gasto em saúde não diminui no longo prazo. Uma pessoa que morre aos 65 anos, por infarto agudo do miocárdio, por exemplo, consome bem menos serviços e produtos de saúde do que sobreviver ao infarto e vir a falecer de câncer aos 90 anos.
O debate sobre o financiamento da saúde deve partir, portanto, da premissa de que quanto mais saúde um povo tem, mais assistência médica ele precisa. Como corolário, quanto maior o gasto em saúde hoje, maior ele será amanhã. As medidas preventivas são necessárias porque nos permitem viver mais e melhor, não porque barateiam os gastos globais do sistema.
O amplo movimento para o aumento de recursos públicos para a Saúde gerou, em 2013, um projeto de emenda popular propondo destinar 10% das receitas correntes brutas da União para a Saúde. Se essa emenda tivesse sido aprovada, o Brasil ainda não atingiria o gasto per capita, por exemplo, do Reino Unido da década de 1980. Além disso, com a mudança do perfil demográfico e envelhecimento populacional, a previsão é de que as necessidades de financiamento de cuidados de saúde necessitariam de um aporte adicional de cerca de 37%.
Mas parece que nossas elites são insaciáveis. Tamanhas distâncias sociais não as incomodam. Não faz muito tempo, estávamos dando alguns míseros passos para reduzir essas diferenças. O máximo que a coalizão política liderada pelo PT fez desde que assumiu o governo em 2003 foi implementar fortes políticas de transferência de renda e valorização do salário-mínimo, mas sem reformas estruturantes. Desse modo, os governos do PT introduziram o melhorismo que, embora insuficiente, propiciou um salto de qualidade nas condições de vida da maioria dos trabalhadores do Brasil. Entretanto, essa tímida melhora se esvai com a invasão bárbara capitaneada pelas hostes golpistas.
Em 13 de dezembro último, numa espécie de comemoração macabra do 48º aniversário do Ato Institucional nº 5, que institucionalizou o golpe dentro do golpe militar de 1964, o Senado Federal aprovou, em segunda votação, uma emenda à Constituição de 1988, congelando os gastos chamados “primários” do governo federal por 20 anos.
Enquanto os gastos com a dívida pública seguirão sem limites, os dispêndios com saúde, educação, previdência e assistência social, infraestrutura, defesa, cultura e todas as demais despesas da gestão pública serão corrigidas apenas pela inflação medida pelo IPCA. Os juros e encargos da dívida consumiram até 19 de dezembro de 2016, de acordo com o jurômetro da FIESP, quase R$ 400 bilhões ao longo do ano – uma fatia maior que os orçamentos da educação, saúde, defesa e desenvolvimento social somados!
Tais medidas não surgem de um consenso entre as diversas escolas de economia do país, mas da força política de seus defensores com voz única nos noticiários. Inventam uma crise fiscal e mentem dizendo que uma economia nacional deve se ater às mesmas restrições orçamentárias de uma família ou de uma firma. Alegam um endividamento insustentável que corroboraria nossa alta taxa de juros, mas desconsideram casos como o Japão, a maior relação dívida/PIB do mundo e uma das menores taxas de juros. Um ajuste fiscal na maior recessão da história do Brasil não faz sentido.
Fica evidente que razões de natureza política prevalecem na defesa de políticas de fiscais restritivas. De acordo com o economista Michal Kalecki, há três razões dessa ordem para o governo não atuar na direção do pleno emprego. A primeira, manter o governo sob controle através da chantagem de que distúrbios na confiança dos agentes provocam crises econômicas. A segunda questiona a direção do gasto público por temer a concorrência do investimento público ou porque eventuais subsídios ao consumo de massa desmontam um dos princípios morais basilares do sistema capitalista, “você deve ganhar o seu pão no suor”. Por fim, a terceira razão para esta oposição decorre do natural empoderamento dos trabalhadores quando a demissão não tem mais o seu caráter disciplinador.
O discurso da contenção os gastos públicos avança sobre a previdência social e tenta se impor uma reforma em que uma aposentadoria integral só será obtida em idade acima da expectativa de vida de diversos brasileiros. Com as anunciadas modificações na legislação trabalhista, percebe-se que o pacote de maldades pretende devolver os trabalhadores para condições anteriores a era Vargas.
O que não está considerado pelas elites é que as tímidas mudanças promovidas pela era PT no governo trouxeram a experiência de que a miséria não é condição natural. Após o golpe, tem se seguido, e se acentuará, uma deterioração das condições de vida. Some-se a isto a iminente da retirada de direitos históricos dos trabalhadores brasileiros e perceberemos uma inevitável convulsão social.
O desmonte dos golpistas só se sustenta no tacape. Serão necessários bantustões ou campos de concentração para acomodar as classes subalternas. De forma mais dramática, alcançaremos o homo ricus proposto pelo cineasta Cacá Diegues numa crônica publicada na revista Piauí, em que os evoluídos endinheirados literalmente caçam os primitivos 99,9%. E, claramente, essa caçada já começou.

